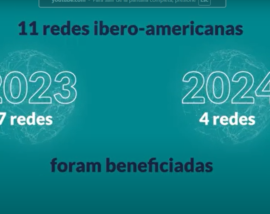Dá-se um paradoxo inquietante. Em um momento em que o espaço cívico se estreita em boa parte da Ibero-América — entre restrições legais, vigilância sobre ativistas e pressão financeira e política severas —, milhares de espaços participativos povoam a geografia latino-americana. No entanto, a participação da sociedade civil fica em um ato meramente simbólico na maioria dos casos. “Convidam você para opinar, escutam amavelmente e depois fazem o que já tinham decidido”, afirma Inés M. Pousadela. Diante dessa situação, a especialista aponta a próxima Cúpula como uma oportunidade para que os Governos vejam a sociedade civil como aliada, e não como inimiga.
Doutora em Ciência Política pela Universidade de Belgrano (Argentina) e analista da CIVICUS — aliança da sociedade civil que trabalha para reforçar a ação cidadã em todo o mundo —, Pousadela estudou esse fenômeno durante anos e seu diagnóstico é claro: “A região construiu uma abundante arquitetura participativa que, no papel, parece sólida, mas que raramente se traduz em decisões reais”. As cifras corroboram isso: segundo o CIVICUS Monitor 2025, 60% dos países da região têm espaço cívico obstruído ou reprimido.
Nesta entrevista para Somos Ibero-América, a analista disseca as causas que, a seu juízo, podem estar por trás desse fenômeno persistente e sugere caminhos, ideias e opções para avançar rumo à participação significativa que a sociedade civil persegue há décadas.
Doutora em Ciência Política pela Universidade de Belgrano (Argentina) e analista da CIVICUS — aliança da sociedade civil que trabalha para reforçar a ação cidadã em todo o mundo —, Pousadela estudou esse fenômeno durante anos e seu diagnóstico é claro: “A região construiu uma abundante arquitetura participativa que, no papel, parece sólida, mas que raramente se traduz em decisões reais”. As cifras corroboram isso: segundo o CIVICUS Monitor 2025, 60% dos países da região têm espaço cívico obstruído ou reprimido.
Nesta entrevista para Somos Ibero-América, a analista disseca as causas que, a seu juízo, podem estar por trás desse fenômeno persistente e sugere caminhos, ideias e opções para avançar rumo à participação significativa que a sociedade civil persegue há décadas.
Como os países podem avançar rumo a modelos de participação que vão além da consulta simbólica e promovam uma colaboração real no desenho, implementação e avaliação das políticas públicas?
O grande problema na Ibero-América é que seguimos presos no nível mais baixo da escada participativa. A maioria dos mecanismos existentes são espaços onde o governo informa a cidadania ou, no melhor dos casos, recolhe suas opiniões, mas sem obrigação de atuar em consequência. Na prática, convidam você para opinar, escutam amavelmente e depois fazem o que já tinham decidido.
Para avançar rumo a uma participação real são necessárias três coisas. A primeira é institucionalizar esses espaços de participação que muitas vezes se criam por decreto, o que quer dizer que dependem da vontade do presidente de turno. Como consequência, mudam, desaparecem ou se esvaziam quando entra um governo com orientação diferente. Um caso muito óbvio é o do Brasil. Sob governos do Partido dos Trabalhadores criaram-se dezenas de conselhos participativos em nível federal, estadual e municipal, mas quando Bolsonaro chegou, dissolveu todos por decreto.
Depois, é necessário definir claramente seu funcionamento. É preciso perguntar para que servem esses espaços e assegurar que abarquem todo o ciclo das políticas públicas: desenho, implementação, monitoramento e avaliação. As consultas que chegam apenas no começo ou no final não servem quase para nada. Além disso, deve existir obrigação de prestar contas, com explicações claras sobre o que é levado em conta e o que não é.
O terceiro elemento consiste em garantir uma composição equilibrada entre os governos e a sociedade civil, onde os representantes não sejam designados pelo governo, mas escolhidos de maneira autônoma pelas próprias organizações. Se a designação depende do Estado, muitas vezes favorece-se a cooptação e excluem-se vozes críticas ou independentes.
Existem, no entanto, alguns exemplos que podem servir de referência para melhorar a participação, como a experiência da Aliança para o Governo Aberto, com fóruns multissetoriais paritários entre governo e sociedade civil, regras claras, mecanismos de retroalimentação e obrigação de explicar por que se aceita ou rejeita uma proposta. Não é perfeito, mas está vários degraus acima da mera consulta. Também países como a Colômbia contam com marcos participativos em todos os níveis com um bom desenho participativo; no entanto, a implementação e o funcionamento falham. Isso demonstra que, sem vontade política sustentada, recursos e resultados visíveis, mesmo os melhores desenhos não servem, e a cidadania abandona esses espaços.
Aproveitar as janelas de oportunidade exige preparação. Quando se abre uma, é preciso contar previamente com propostas sólidas
A CIVICUS fala há anos sobre janelas de oportunidade para a incidência. Como se detectam e de que maneira a sociedade civil pode aproveitá-las?
As janelas de oportunidade são momentos excepcionais que tornam possível alcançar avanços que em condições normais não ocorreriam. As crises são um deles. A pandemia, por exemplo, permitiu colocar na agenda pública temas como a saúde pública, as desigualdades estruturais, a proteção social, até mesmo as desigualdades de gênero nas tarefas de cuidado.
Também podem se abrir após eleições, quando chegam governos com compromissos de reforma, ou após protestos massivos que obrigam a abrir diálogos antes bloqueados — como aconteceu no Chile, onde o revolta social produziu um processo de reforma constitucional, embora depois não tenha saído como se esperava, mas isso é outro tema.
Os compromissos internacionais e, retomo aqui a Aliança para o Governo Aberto, também abrem janelas para gerar novas oportunidades de participação institucionalizada. O Equador é uma boa prova disso. Embora tenha entrado tarde na Aliança, conseguiu abrir espaços de co-construção que antes não existiam.
Mas aproveitá-las exige preparação. Normalmente, quando a janela se abre não há tempo para começar do zero, de modo que as organizações que já têm diagnósticos elaborados, propostas técnicas sólidas, coalizões construídas são as que alcançam maior efetividade. Nesse sentido, é importante insistir que a incidência efetiva não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona: as mudanças verdadeiras costumam ser lentas e acumulativas, e a persistência é a chave. Além disso, as organizações que conseguem aproveitar a janela de oportunidade desde múltiplas frentes — litígio estratégico, mobilização, trabalho midiático, incidência internacional — obtêm mais e melhores resultados.
Os sinais de alerta precoce são bastante reconhecíveis e começam por algo que muitas vezes deixamos passar: as narrativas
Como a sociedade civil pode identificar cedo as limitações ao espaço cívico e ativar ações eficazes de defesa?
É preciso construir sistemas de alerta precoce. O fechamento do espaço cívico nunca ocorre de um dia para o outro; é gradual e segue padrões reconhecíveis. O problema é que muitas organizações civis não reagem até que seja tarde demais, quando reverter esses processos é muito mais difícil.
Atualmente estamos lidando com governos que estão usando ferramentas de repressão severas. Na Ibero-América, os sinais de alerta precoce são bastante reconhecíveis e começam por algo que muitas vezes passa despercebido: as narrativas. Quando os governos questionam sistematicamente a legitimidade das organizações e tentam enfraquecê-las acusando-as, por exemplo, de serem agentes estrangeiros ou de estarem financiadas por potências imperialistas, isso é um alerta. Essa retórica, que aparentemente não faz demasiado dano porque “são apenas palavras”, prepara o terreno para depois desenvolver ações mais profundas que muitas vezes acabam com elas. Por isso é extremamente importante travar a luta das narrativas desde o início.
Depois vem o controle abusivo do financiamento, com leis que exigem registro de fundos internacionais, a aprovação governamental para receber ajudas ou até mesmo a proibição direta. Em seguida, a burocracia sufocante: leis de ONG — que a sociedade civil muitas vezes chama de leis anti-ONG por sua dureza —, inspeções arbitrárias, multas, cancelamento da personalidade jurídica. E, finalmente, a criminalização do protesto, a perseguição judicial e, o mais grave, a violência contra ativistas.A resposta efetiva requer agir diante dos primeiros sinais e tem que ser multidimensional, documentada e, se possível, melhor coletiva do que individual. Ferramentas como o CIVICUS Monitor permitem avaliar as liberdades cívicas de cada país e ativar a pressão internacional. As plataformas nacionais e as redes regionais e internacionais são chave para amplificar denúncias, assim como os mecanismos internacionais de direitos humanos, como o sistema interamericano ou os procedimentos das Nações Unidas, entre outros. Muitos governos que não respondem muito à pressão interna são sensíveis à pressão internacional, especialmente se ela afeta sua reputação ou suas relações diplomáticas e, sobretudo, comerciais.
A sociedade civil faz coisas incríveis em circunstâncias adversas, mas precisa superar a fragmentação e comunicar melhor
Como você avalia o estado atual do movimento da sociedade civil na região e que margem de melhoria acredita que existe?
A sociedade civil latino-americana está fazendo coisas incríveis em condições cada vez mais adversas. Como? Evitando a fragmentação, afinando as estratégias, planejando a longo prazo e, definitivamente, melhorando a comunicação.
O tema da fragmentação é muito importante. Muitas organizações trabalham de forma isolada e, além disso, lutam entre si para conseguir fundos, visibilidade, protagonismo. Tudo isso, longe de ajudar, enfraquece o movimento. É preciso articular redes amplas que cruzem setores, temas e que incluam inclusive diferenças ideológicas para serem mais fortes.
Também há as estratégias. Está mais que comprovado que as organizações mais bem-sucedidas são as que combinam distintas táticas ao mesmo tempo: presença institucional, mobilização, pesquisa, comunicação. Mas a falta de planejamento a longo prazo é um lastro para o movimento social. Muitas organizações operam em modo de sobrevivência, reagindo a cada crise em vez de construir agenda.
E depois está a comunicação, talvez o ponto-chave. Usa-se jargão técnico, produzem-se relatórios que ninguém lê, fala-se para os convencidos… Falta comunicação estratégica que gere mensagens que conectem com as pessoas. É preciso construir uma narrativa positiva, que comunique o valor concreto da sociedade civil: que conquistas são alcançadas, quantas pessoas são beneficiadas, por que importam. Quando a cidadania entende o valor da sociedade civil, é mais difícil a repressão para os governos. Tudo isso, sem dúvida, potencializaria o impacto da sociedade civil.
Quando a cidadania entende o valor da sociedade civil, é mais difícil a repressão governamental
O relatório Espaços da sociedade civil, do qual você é autora, detecta que muitos mecanismos participativos estão bem desenhados normativamente, mas não funcionam na prática. O que explica isso? Mudou algo desde a publicação do estudo em 2024?
Lamentavelmente, não. A rigor, o que vemos é uma regressão democrática em muitos países, e a causa principal é a falta de vontade política.
Os motivos que, na minha opinião, explicam esse fenômeno são vários. Por exemplo, alguns espaços são criados apenas para cumprir com padrões internacionais, demandas de doadores ou mobilizações cidadãs, mas depois não são regulamentados, não são convocados ou são realizados sem recursos reais. Além disso, quando o mecanismo depende de um decreto ou resolução administrativa, é muito fácil que essa fragilidade institucional acabe provocando a paralisação ou o desaparecimento dos espaços a cada mudança de governo.
Outros fatores a levar em conta são os desenhos defeituosos dos espaços. Na maioria dos casos, são meramente consultivos, sem capacidade de decisão, e as autoridades não têm obrigação de explicar o que fazem com as contribuições que recebem.
Também está a cooptação: mesmo quando os espaços existem, sua composição fica enviesada quando é o governo quem escolhe os representantes ou exclui diretamente as vozes críticas.
E, claro, a escassez orçamentária. Participar implica custos que muitas organizações, sobretudo as pequenas, não podem assumir. O resultado: espaços que parecem bem feitos no papel, mas que acabam não funcionando na prática.
Que riscos implica que a participação se limite a opinar sem capacidade de influir?
O risco principal é a desafeição: quando as pessoas investem tempo, expectativas, esforço, e não veem resultados, desistem. E isso gera deserção cidadã, empobrecimento do movimento cívico, perda de diversidade. Os espaços efetivos se convertem em câmaras de eco do discurso governamental. Além disso, existe um risco grave de legitimação espúria: os governos usam esses espaços para dar aparência de democracia participativa, quando, na realidade, as decisões já estão tomadas. Também há um perigo de despolitização quando a participação se reduz a um exercício técnico, sem questionar relações de poder.
Um espaço consultivo pode ter valor, mas somente se houver diálogo real, construção coletiva, deliberação genuína e obrigação de responder publicamente.
As leis devem estabelecer mandatos claros, composição equilibrada e capacidade de autoconvocação
O que os Estados deveriam fazer para garantir estabilidade e autonomia aos espaços participativos?
Primeiro, legislar criando espaços permanentes, não por decreto conjuntural. A lei deve definir com clareza o mandato, a composição, as atribuições, os procedimentos, a periodicidade, a obrigação de prestar contas… Também deve permitir a autoconvocação, já que muitos governos simplesmente deixam de reunir os espaços sem mais explicação. É preciso ainda atribuir orçamentos e algo mais essencial: que os representantes da sociedade civil sejam designados pela própria sociedade civil — com chamadas abertas ou eleições internas —, não pelo Estado. Essa autonomia é a base para um diálogo real e democrático.
Por último, a composição dos espaços deve ser equilibrada. Se os governos os dominam, não há deliberação real. Além disso, deve existir a obrigação de publicar relatórios periódicos que expliquem como as recomendações são adotadas, por que são aceitas ou descartadas e quais mecanismos existirão para monitorar seu cumprimento.
Até que ponto a falta de recursos (humanos, institucionais, financeiros) impede que a participação seja real e não meramente formal?
De forma determinante. Recursos não significam apenas dinheiro — implicam tempo, pessoal capacitado, infraestrutura, acesso à informação, tecnologia, deslocamentos. Por exemplo, a maioria dos espaços participativos da região carece de secretaria técnica; muitos carecem de orçamento próprio, sede física, plataformas digitais para participação remota… Para uma organização pequena de base rural, participar de um espaço nacional implica altos custos de deslocamento, pessoal, acompanhamento técnico. Se o Estado não os cobre, acabam participando apenas organizações grandes e urbanas, o que enviesaria a voz em direção às elites.
Além disso, sem recursos não há sustentabilidade. Muitas organizações começam com entusiasmo, mas não conseguem manter a participação ao longo do tempo. E quando dependem de fundos estatais condicionados, corre-se o risco de cooptação: a independência é sacrificada pela sobrevivência.
Uma participação significativa implica o ciclo completo, diálogo, informação, inclusão e consequências visíveis
Que critérios considera indispensáveis para que um mecanismo seja realmente significativo e não simbólico?
Primeiro, que cubra todo o ciclo das políticas públicas: identificação, desenho, execução, monitoramento, avaliação. Não basta consultar no início ou no final.
Segundo, o caráter bidirecional: deve haver deliberação real, troca de argumentos, construção conjunta. As consultas que simplesmente recolhem sugestões de forma unilateral não valem.
Terceiro, informação completa, acessível, oportuna: dados claros, estudos de contexto, cenários, alternativas, em formatos compreensíveis e tempo suficiente para analisá-los. Não relatórios técnicos de 500 páginas dois dias antes da reunião.
Quarto, inclusão real: os espaços devem estar abertos a todas as organizações relevantes, não apenas às afins. Isso implica criar condições para que organizações pequenas, comunitárias ou rurais participem: cobrir diárias, permitir participação remota, horários compatíveis, interpretação quando necessário.
Quinto, obrigação de prestação de contas: as autoridades devem publicar como consideraram as propostas cidadãs, quais adotaram, quais rejeitaram e por quê. Tudo isso deve ser público e contar com mecanismos de acompanhamento.
Se um espaço cumpre todos esses critérios, pode gerar mudanças reais; se não, seguirá sendo apenas uma caixa de sugestões vazia.
A Cúpula é uma oportunidade que não devemos desperdiçar. É necessário compromisso político no mais alto nível
Em face à XXX Cúpula Ibero-Americana, o que deveria mudar para que a participação civil seja um elemento estrutural?
A Cúpula é uma oportunidade que não devemos desperdiçar. É necessário compromisso político no mais alto nível, de presidentes e chefes de Estado, que reconheça a sociedade civil como aliada, e não como incômodo. Esse reconhecimento deve se transformar em compromissos concretos, mensuráveis, com mecanismos de acompanhamento. Por exemplo, a Cúpula poderia aprovar uma declaração ibero-americana de colaboração cidadã com padrões mínimos: garantias plenas de liberdades de associação, expressão e reunião pacífica; criação de mecanismos de alerta precoce; um sistema regional de solidariedade e pressão diplomática diante de restrições ao espaço cívico; recursos compartilhados.